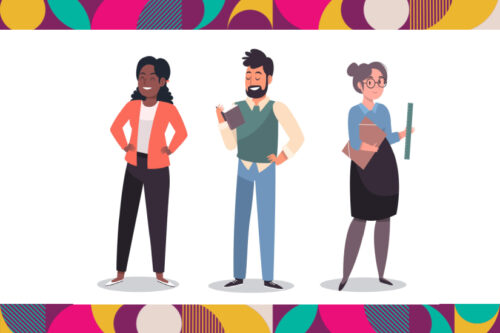Não basta ser contra o racismo, é necessário ser antirracista: essa frase, que ficou conhecida por meio da professora, filósofa e ativista negra norte-americana Angela Davis nunca perdeu a atualidade. As recentes manifestações contra violência policial em relação à população negra nos Estados Unidos e no Brasil abriram caminho para discussões mais amplas sobre o racismo no nosso país, o que em si não é um tema novo, mas que traz questões urgentes: entre elas, como podemos construir uma educação antirracista, em um país em que mais de metade da população é negra, mas no qual falar-se sobre questões raciais ainda é um caminho cheio de percalços e tabus?
Em entrevista a Marcelo Ganzela, coordenador da graduação em Letras do Singularidades e apresentador do podcast Educaramba, Mayana Nunes da Silva, historiadora, doutoranda em Antropologia Social na Universidade Estadual de Campinas e pesquisadora na área de gênero, sexualidade, mídia, violência em relações de gênero e diversidade, defende a premissa de que, enquanto a sociedade brasileira não assumir-se racista e reconhecer o racismo estrutural sobre o qual o país foi fundado e segue apoiado, esta trilha seguirá acidentada.
“A gente segue trazendo o debate racial porque nós não fizemos o básico, que é nos reconhecermos como racistas. Essa é a primeira etapa: nos pensarmos desta forma, em como o racismo estrutura toda a sociedade, a economia, a política, a educação e quase todos os setores da nossa sociedade. É necessário fazer esse reconhecimento. Após isso, a gente consegue ir caminhando, ir pensando em soluções e em caminhos para a solução deste problema, que é muito grave”, analisa Mayana.
Um dos pontos que dificultam este reconhecimento do brasileiro enquanto racista, aponta Mayana, é a crença numa suposta “democracia racial”, em que negros, brancos e indígenas conviveriam em harmonia e igualdade. O mulato, nascido do relacionamento entre branca e negro ou vice-versa, seria uma prova viva de como essas relações são equilibradas e cordiais.
Esta teoria é creditada ao sociólogo e antropólogo pernambucano Gilberto Freyre, mas foi potencializada por outros intelectuais, que se debruçaram sobre os estudos de Freyre sobre a sociedade brasileira a respeito do período escravocrata no Brasil. Esta ideia, explica a pesquisadora, apaga o genocídio indígena e a vinda forçada de africanos para o continente americano pelos colonizadores.
“Esse mito é muito forte na nossa sociedade, o da mestiçagem, o de que não há divisões raciais, mas equilíbrio. No movimento negro, essa é uma coisa que já foi desconstruída. Se você pega as estatísticas, a maior parte dos assassinatos é da população negra, jovem e periférica. A maior parte dos encarcerados é negra e, neste contexto de pandemia, é a população preta e pobre a que mais morre. Então, a democracia racial não tem a menor veracidade. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente não encontra essa ideia de que se vive harmoniosamente e que todas as pessoas, independentemente de sua raça, têm as mesmas oportunidades. Isso não é verdadeiro”, reforça.
Além disso, a pesquisadora aponta para uma outra questão urgente: quando se fala de racismo, não nos referimos apenas aos negros ou indígenas, mas sim a toda sociedade brasileira. O negro só o é “em relação” ao branco. Por isso, Mayana chama a atenção para o papel dos brancos na construção de uma sociedade antirracista.
“Refletir o que é ser uma pessoa branca em um país racista, o que isso traz de privilégios, o que você não precisou viver ou passar por conta da sua branquitude. Se a gente quer uma sociedade democrática, com instituições fortes e igualitária, a questão racial deve ser pensada por todos nós.
Rumo a uma educação antirracista
O primeiro passo para que a educação antirracista é a descolonização do currículo, oferecendo aos alunos a oportunidade de estar em contato com contato com bibliografias e histórias pouco estudadas, de autores oriundos de grupos vistos socialmente como marginalizados, como os negros e os indígenas. Num país de dimensões continentais e composição étnica diversa, seguir um modelo de escola eurocêntrico, que valoriza mais as influência de autores, educadores e intelectuais desta origem, soa bastante anacrônico.
Mayana é uma forte defensora desta ideia. “Eu gosto de pensar na ideia de uma educação antirracista, junto à de uma educação descolonizadora, que traga à tona negros e indígenas como sujeitos da história, e não como objetos. É não estudar apenas a escravidão, quando a população negra está na literatura, na história, na matemática e em tantas outras áreas”, explica.
Ela acredita que já houve alguns avanços, como a criação da Lei 1039, que exige o ensino da história afro-brasileira, africana e indígena na educação básica. Mas como ajudar o professor a pensar num currículo, cubra estas áreas e, se possível, vá mais além delas, dentro de um cenário de educação bastante nebuloso como o que enfrenta o Brasil nos dias de hoje?
“Tenho observado cada vez mais pessoas que têm um engajamento social e coletivo atuando na educação, pessoas que querem buscar a formação em questões étnico-raciais, que buscam debates e cursos a este respeito. Hoje a internet é uma fonte inesgotável de fontes, de militantes dos movimento negros e indígenas a pessoas que estão produzindo conteúdos muito potentes e relevantes, que podem ajudar a este educador na construção de suas referencias”, observa Mayana.
Entretanto, diz a pesquisadora, não basta seguir o que pede a lei: há que se acrescentar nomes de intelectuais, autores, teóricos, poetas e formadores de opinião negros e indígenas a outros componentes curriculares, da história à matemática, para que este repertório cresça e colabore para que os alunos possam ouvir o que essas pessoas, até hoje tão pouco ouvidas, têm a dizer.
Entre as sugestões de escritores, intelectuais e pensadores fundamentais, Mayana lista os escritores Davi Kopenawa e Ailton Krenak, a política e ativista Sônia Guajajara, como alguns nomes indígenas mais conhecidos. Entre os negros, ela lista o geógrafo Milton Santos, o escritor e professor Abdias do Nascimento, a antropóloga e feminista Lélia Gonzalez, além de influências norte-americanas como Angela Davis (que citamos no começo do texto) e a escritora, professora e feminista bell hooks, todos eles com forte atuação política, também.
Aos professores, também cabe estimular nos alunos – e em si mesmos – a consciência de que alguns autores tiveram sua etnia “apagada” pela cultura dominante, como Machado de Assis, que até bem pouco tempo, era tido como um homem branco, e retratado como tal. “Acho muito importante que a gente e os estudantes conheçam a trajetória daquele autor, suas origens, para que possa perceber as questões levantadas em muitas de suas obras. Isso vai para além da sala de aula”, aconselha.
Para encerrar, a pesquisadora relaciona os atuais movimentos “Vidas Negras Importam” no Brasil, e “Black Lives Matters” nos Estados Unidos, a um modelo de educação antirracista. “Quando a gente fala de uma educação antirracista, estamos dizendo que vidas negras e indígenas importam, suas histórias importam, e situar, que no mundo todo, por conta do racismo, essas pessoas resistem. A gente não quer viver nos guetos e nas resistências: a gente quer poder viver melhor”, conclui.
O que você vem fazendo em suas aulas para educar de forma antirracista? Compartilhe com a gente suas experiências!
Para saber mais: www.institutosingularidades.edu.br
Entre em contato: [email protected]